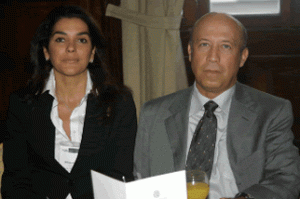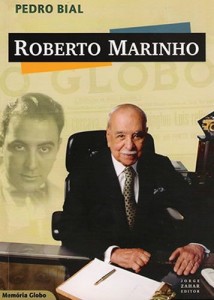Mais um trecho de Minha Tribo — o jornalismo e os jornalistas
AO LONGO DOS meus anos de redação, até para lembrar meus tempos da seção de livros da Veja, tenho escrito, aqui e ali, resenhas de assuntos que me interessam, como aconteceu com o Xangô de Jô.
A última vez em que analisei um livro foi quando chegou a mim, na Editora Globo, o panegírico dedicado ao falecido dono da Folha, Octavio Frias de Oliveira. Fiquei incomodado não apenas com a bajulação deslavada, mas com a miopia do conteúdo ao ignorar o trabalho duro e brilhante dos jornalistas da Folha antes e depois que Frias a comprasse, no início da década de 1960.
Parecia que a Folha começara com Frias, o que é uma aberração. Seu antecessor, Nabantino Ramos, com talentos editoriais e intelectuais muito acima dos de Frias, um granjeiro rico, construiu um alicerce para a Folha do qual Frias, posteriormente, se beneficiaria. Nos tempos de Nabantino, a Folha enfrentava a liderança poderosa e estabelecida do Estado de S. Paulo. Sob Frias, o Estado já era uma caricatura do que fora. Eram duas situações completamente diferentes.
Frias, no livro póstumo, era tratado como um editor. Um momento. Henry Luce era editor da Time. Mas Frias? Luce concebera, nos anos de 1920, uma revista semanal de informações que organizasse a semana para seus leitores. Luce era um aluno notável de Yale, como seu parceiro na fundação da Time, Britton Haden, morto ainda nos primeiros tempos da revista. Ambos escreviam, faziam títulos e legendas, eram capazes de dar vida a um texto de capa maçante.
E Frias?
No próprio livro em sua homenagem, está dito que Frias comprou a Folha em busca do status que a granja lhe negava. Um amigo comum dele e de Nabantino sugeriu a Frias que comprasse o jornal. Nabantino estava infeliz. Sentia-se traído pelos jornalistas — entre os quais papai — que entraram em greve em 1961. No livro uma série de fotos de Frias com personalidades do poder militar e civil das últimas décadas mostra que o status lhe foi dado pelo jornal. Aquelas pessoas não sorririam tanto para um granjeiro.
A tentativa de transformar Frias num gênio do jornalismo por bajuladores como Clóvis Rossi e Juca Kfouri, provavelmente interessados na simpatia da família, não tem nexo. Muitas vezes é citado o “furo” que Frias teria dado na doença que matou Tancredo Neves antes que ele assumisse a posição de primeiro presidente civil depois do regime militar de 1964. Frias teria passado à redação a notícia de que Tancredo teria um tumor.
É muito barulho por pouco. Donos de jornais, como todas as pessoas influentes, recebem informações o tempo todo de gente que quer ficar bem com eles e fazer mal a inimigos. O mérito de Frias no caso do tumor de Tancredo, caso seja verdade que ele tenha dado a informação e, mais ainda, que o tumor de fato existisse e tivesse importância na doença, é próximo de zero. Todo jornalista habituado à refrega nas redações sabe disso, ou deveria saber.
Compare o “furo” de Frias com o trabalho dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein no esclarecimenro do Caso Watergate, que tirou o presidente Nixon do poder, e você terá uma idéia do que estou dizendo mesmo se jamais tiver entrado numa redação.
A resenha que fiz do livro de Frias foi uma das raras ocasiões em que um texto meu na Editora Globo foi lido, antecipadamente, pela família Marinho. Textos sobre os proprietários de empresas de mídia, no Brasil, costumam ser lidos — e escritos — com cuidado redobrado.
A Folha, tão aguerrida, fez um livro desprezível jornalisticamente sobre Frias. Curiosamente a Globo, que a Folha acusa de ter sido chapa branca durante a vida de Roberto Marinho, editou um bom livro sobre o dono morto. Escrito por Pedro Bial, o livro nota o empreendedor intrépido e nem sempre escrupuloso. Ao mesmo tempo, se detém em questões pessoais importantes para entender a alma de Roberto Marinho. A tez escura e a baixa estatura, por exemplo, deram a Roberto Marinho um complexo de inferioridade com o qual ele lidaria a vida inteira. Bial também tenta investigar se Roberto Marinho, que fazia questão de ser chamado de jornalista, sabia escrever. Ele ingressou no negócio de jornalismo por ser filho primogênito de um homem que fundou um jornal, O Globo, não necessariamente por vocação, e morreu cedo.
Se escrevia, é uma interrogação. Roberto Marinho foi, a meus olhos, muito mais um político e um empresário do que um jornalista. Ele teve, por muito tempo, um ghost writer extraordinário, Otto Lara Rezende, escritor mineiro. Foi Otto Lara quem redigiu a nota oficial que comunicava a demissão de Walter Clark, em 1977, um homem de televisão que contribuiu fortemente, como Boni, para edificar o “padrão de qualidade Globo”. Curiosamente, foi também Otto Lara que escreveu a nota de saída assinada por Clark, a pedido deste. Segundo relatos, a sorte de Clark foi selada quando Roberto Marinho descobriu que ele, com artifícios teatrais, burlava torrencialmente a ordem que proibia consumo de álcool na sede da Globo. O perfil alto de Clark certamente lhe cobrou um preço quando Roberto Marinho quis deixar claro para o mundo que era ele quem mandava na Globo.
Um artigo hagiográfico escrito quando Roberto Marinho era ainda vivo conta uma versão de como teria terminado a carreira de Otto Lara Rezende na Globo. Não dramática, mas comicamente. O autor, José Mário Pereira, fundador da editora carioca Topbooks, contava uma história — “nem confirmada nem desmentida pelo Dr. Roberto” — segundo a qual Roberto Marinho pilhara seu ghost writer imitando-o. Antes, teria sabido das piadas que Otto Lara contava sobre ele.
Poucas coisas são mais arriscadas do que contar piadas sobre patrões, sobretudo se elas forem boas e os patrões não tiverem tanto senso de humor assim. Escreveu Pereira: “Certo dia, durante uma visita ministerial à sede da emissora, o patrão ia à frente, com o ministro, e Otto logo atrás, com assessores. De repente, percebe de soslaio que Otto o está imitando. A isso somou-se o fato de, nos últimos tempos, o redator demorar a entregar o que lhe pediam. Quando retornou a sua sala, Dr. Roberto mandou demiti-lo. De nada valeu a interferência de amigos: não teve volta. O cronista ficou deprimido, deixou a barba crescer.”

"Certo dia, durante uma visita ministerial à sede da emissora, o patrão ia à frente, com o ministro, e Otto logo atrás, com assessores. De repente, percebe, de soslaio, que Otto o está imitando"
Mandar demitir é um clássico de quem tem poder. Poucas coisas são tão desagradáveis quanto despedir alguém. Os manuais de gestão têm uma série de recomendações para esse tipo de situação: jamais às sextas, jamais no aniversário da vítima, jamais em períodos como o Natal ou o Ano Novo. Mas, quando parte a ordem de um patrão, subordinados zelosos por manter seu posto não costumam levar nada disso em consideração. Juan Ocerin, diretor-geral da Editora Globo, foi demitido por Jorge Nóbrega, homem de confiança da família Marinho, entre o Natal e o Ano Novo de 2007. Não foi ele quem decidiu a demissão, mas executou-a tão logo recebeu a instrução, sem levar em consideração o calendário. A história — pouco edificante, tanto mais para um profissional com passado de RH como Nóbrega — me foi contada por fonte boa: Frederic Kachar, que naqueles dias estava sendo promovido ao posto ocupado por Juan.
Segundo Fred me contou entre compreensíveis sorrisos, depois de uma apresentação do orçamento da Editora Globo aos acionistas no final de 2007, Roberto Irineu Marinho, o presidente das Organizações, teria comentado não gostar “daquele espanhol”. Seu filho, que pela primeira vez acompanhava as apresentações das unidades de negócios do grupo, assim como os primogênitos de João Roberto e José Roberto, teria comentado: “Então demite, o senhor é o dono.” Nóbrega, segundo essa versão confiável e crível, fez o que o filho de Roberto Irineu sugeriu. Perdeu uma boa oportunidade de dar uma lição de RH a seu jovem pupilo e mostrar que demitir na semana de Papai Noel não é coisa que se faça. Fred não riria por muito tempo.

"Os bascos não se rendem"
Em seu período demissionário, Juan começou a investigar freneticamente a conduta de Fred como diretor financeiro, em busca de eventuais informações que pudessem comprometê-lo. Ele queria desesperadamente continuar como diretor geral, mesmo tendo sido despedido. Juan veio me procurar para dizer que Fred não estava preparado. Para me aliciar, disse que Fred achava meu salário “alto demais”, embora, ao contrário do novo diretor geral e do próprio Juan, eu não tivesse uma Porsche Cayenne ou um BMW que valia o orçamento de um ano inteiro de algumas das revistas da casa. Minha reação, ao ver o caos que estava se criando na empresa com o comportamento aloprado de Juan, foi ligar para João Roberto. A saída de Juan, que numa extragavante e emocionada fala para anunciar a própria demissão dissera que os bascos “não se rendem”, foi então apressada. Mesmo atordoado, Juan ainda encontrou forças para ir a uma boca livre da revista Quem no carnaval de Salvador.
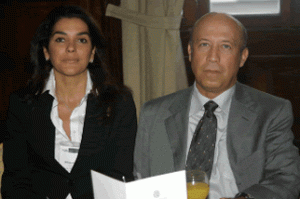
Jorge Nóbrega com uma executiva da Globo: nem Papai Noel o deteve
Os livros contam que Roberto Marinho agia rápido, como na demissão de seu ghost writer brincalhão, mas também sabia esperar. Um livro sobre a saga da família Bloch, da Manchete, traz um episódio revelador da alma de Marinho. Afundado em dívidas, Adolfo Bloch, o patriarca da família, foi pedir socorro a Roberto Marinho. Dez anos antes, Bloch esnobara Marinho ao não retornar um telefonema cujo propósito era um acordo que supostamente fosse bom tanto para a Globo quanto para a TV Manchete de Bloch. Segundo a versão de Bloch, Roberto Marinho aceitou receber o concorrente quebrado. Quando este pediu socorro, ouviu: “Adolfo, eu esperei seu telefone por dez anos. Passar bem.” Adolfo e seus negócios passaram mal até simplesmente quebrarem.
Os três filhos de Roberto Marinho parecem bem mais tranquilos que o pai em relação a serem vistos como jornalistas. Numa conversa que me impressionou de forma altamente positiva, ouvi de João Roberto, o filho do meio, que desistira de ser jornalista quando percebeu que seu talento, para isso, era limitado. Sempre que contei a outras pessoas essa conversa, destaquei a demonstração de humildade, autoconhecimento e sobretudo sabedoria que vi nela. Você tem que ter muita segurança para admitir limites. Como coordenador das idéias centrais do conteúdo das mídias da Globo, João não é obrigado a escrever editoriais, artigos etc, aquelas coisas que fazem parte da rotina de um jornalista. Tem uma virtude essencial para donos de empresas de jornalismo: sabe distinguir o que é bom e o que é ruim em todo tipo de mídia.
Ainda hoje, a imagem de Roberto Marinho é cultuada na Globo. Seus três filhos se referem com carinho muitas vezes emocionado ao pai. Em minha passagem pela Globo, fiquei com a clara sensação, ao ver os filhos de Roberto Marinho juntos no comando da Rede Globo, de que ele foi um bom pai, independentemente de qualquer outra coisa. Sua morte provecta liberou os executivos da Globo da obrigação de vestirem paletó e gravata. Luiz Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicações, me contou certa vez que tinha na gaveta uma gravata para emergências — quando era chamado para um despacho com Roberto Marinho.
Alguns detalhes pitorescos da administração de Roberto Marinho permanecem. Me chamou a atenção, no prédio da empresa no Jardim Botânico, o número de homens que desempenhavam funções normalmente exercidas por mulheres. Não é exatamente comum ver secretários. Perguntei um dia a razão daquilo. “O Doutor Roberto era moralista e temia que os executivos se envolvessem com as secretárias e assim famílias fossem desfeitas”, ouvi.
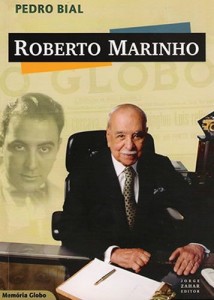
Minha passagem favorita de Roberto Marinho é um diálogo memorável entre ele e sua nêmesis, Leonel Brizola, um gaúcho populista que governou o Rio na década de 1980. Marinho convidou Brizola para uma conversa em sua sala cinematográfica no Jardim Botânico, com vista panorâmica para o que há de mais belo no Rio de Janeiro. Marinho deixou a vista, no encontro, para Brizola. Depois de algum tempo, disse que Brizola de fato mostrara não amar o Rio uma vez que não olhara uma única vez para a paisagem deslumbrante à sua frente. Brizola respondeu: “É que o senhor estraga qualquer vista.”
Roberto Marinho e Frias viveram vidas paparelas, para usar a expressão de Plutarco ao narrar a história de gregos e romanos de percurso parecido, como Cícero e Demóstenes ou César e Alexandre. Em tempos em que a palavra “empresário” era malvista num país avesso a empreendimentos e lucros, acabaram ganhando o título adicional e edulcorador de jornalistas e editores por caminhos diferentes. Roberto Marinho se autointitulava jornalista. Frias não teve que fazer isso. Seus bajuladores trataram de transformá-lo em editor.